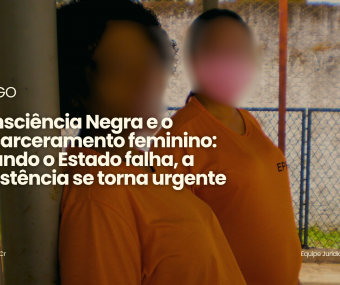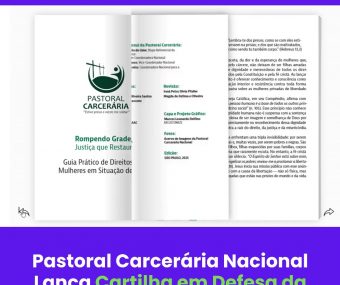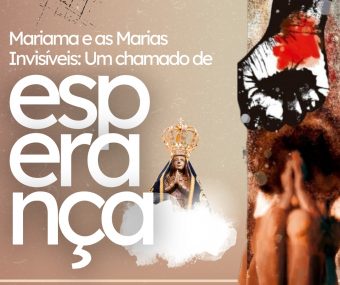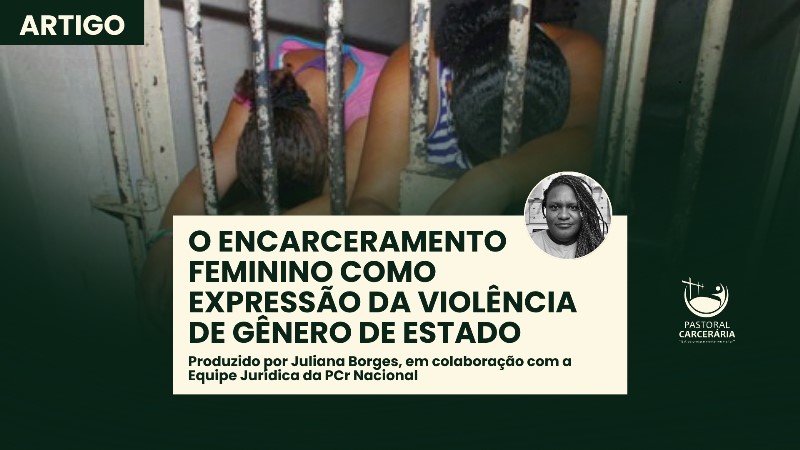
O dia da Consciência Negra é, mais do que uma celebração, um gesto de memória e de denúncia. É um dia que evoca o passado escravocrata do país mas que, sobretudo, ilumina as continuidades que se escondem sob a superfície democrática do Estado brasileiro. Quando olhamos para o cárcere, especialmente para o cárcere feminino, vemos refletida a persistência da lógica colonial que transforma corpos negros em território de punição.
As mulheres negras encarceradas carregam as marcas entrecruzadas da desigualdade de gênero, da exclusão racial e da precariedade da vida. Em sua maioria são jovens, mães, pauperizadas e arrimos de família. Com isso, quando presas, rompem-se laços familiares e afetivos que já se sustentavam em condições precárias. A prisão, nesse sentido, não é apenas uma pena individual, mas um castigo coletivo imposto às famílias negras e periféricas.
Nesse contexto, celebrar a Consciência Negra exige que se olhe para essas mulheres como síntese trágica de uma nação que aprendeu a naturalizar o sofrimento negro. O encarceramento feminino, especialmente o negro, é um espelho do que o Estado brasileiro faz, e deixa de fazer, com sua população mais vulnerável.
O crescimento exponencial do encarceramento feminino no Brasil é uma das expressões mais nítidas da expansão punitiva do neoliberalismo. Entre 2000 e 2014, o número de mulheres presas aumentou 567%, segundo o Conselho Nacional de Justiça, um crescimento muito superior ao dos homens no mesmo período, ainda que as mulheres representem cerca de 5% do total de pessoas presas. Mas esses dados não devem ser lidos de forma isolada. Conforme estudos do Ministério da Justiça, o perfil das mulheres em situação prisional é de 68% negras; e há estados nos quais essa porcentagem passa de 80%. Segundo dados do Infopen, 58% estão presas por delitos relacionados ao tráfico de drogas, em geral sem violência ou grave ameaça, geralmente vinculados à sobrevivência econômica em contextos de pobreza e precarização do trabalho.
Esses números não são estatísticas neutras e traduzem o modo como o Estado seleciona quem deve ser punido, explicitando a seletividade penal-racial e, também, de gênero. A ausência de estruturas adequadas, como berçários, creches, atendimento ginecológico, evidencia a negligência do Estado com a vida e a dignidade das mulheres em situação prisional. E essa omissão institucional é, em si, uma forma de violência.
A punição das mulheres se dá, também, pelo desacordo com os modelos hegemônicos de feminilidade e cidadania, carregando a herança da imagem colonial da “mulher negra perigosa”, construída entre o medo e o desejo, entre a hipersexualização e a criminalização. É a mulher que o Estado não reconhece como sujeito de direitos, mas como objeto de controle.
Para compreender o encarceramento feminino negro, é preciso nomeá-lo como forma de violência de gênero de Estado. Esse conceito, desenvolvido no interior das lutas feministas de direitos humanos latino-americanas e afro-diaspóricas, amplia o entendimento de violência de gênero para além das relações interpessoais. A violência de gênero de Estado se manifesta quando políticas públicas, instituições e práticas estatais produzem, legitimam e perpetuam violências contra mulheres e dissidências.
No caso brasileiro, o Estado é agente ativo na violação de direitos das mulheres negras ao prender mães de crianças pequenas, mesmo com a previsão legal de substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, V, do CPP); ao submeter gestantes e lactantes a condições insalubres, contrariando as Regras de Bangkok; ao negligenciar o acesso à saúde, à educação e à assistência jurídica adequada. Mas a violência estatal não se limita ao cárcere e perpassa as práticas policiais, o funcionamento do Judiciário e a ausência de políticas sociais efetivas. O que se chama de “segurança pública” muitas vezes é, na verdade, uma pedagogia de extermínio. As operações policiais que ceifam vidas em favelas e periferias são expressão da mesma lógica, que encarcera mulheres negras por pequenos delitos, da crença de que a vida negra é descartável.
O Estado brasileiro opera, assim, sob uma estrutura necropolítica, na qual a morte e o sofrimento são administrados segundo critérios raciais, de gênero e de classe. Mulheres negras não são apenas vítimas passivas dessa engrenagem e, sim, alvo de uma política que combina o racismo e misoginia estruturais.
A genealogia da punição no Brasil é inseparável da história da escravidão e de suas continuidades. O Decreto-Lei nº 3.688/41, que tipificava a “vadiagem”, na verdade criminalizava a pobreza e a informalidade, tornando ser negro, pobre e estar na rua em si um ato suspeito. A “lei da vadiagem” punia quem não se encaixava no modelo de cidadão produtivo e, portanto, disciplinado que o Estado desejava formar. Essa lei foi amplamente utilizada contra trabalhadores negros, migrantes e pessoas em situação de rua. Embora hoje esse instrumento de controle de classe e raça tenha sido revogado, sua lógica permanece viva.
A chamada guerra às drogas, na realidade, configura uma guerra declarada contra o povo negro e pobre. No caso das mulheres, essa política repressiva adquire feições específicas, marcadas por violências que atravessam o gênero e a classe. As prisões femininas revelam histórias em que o tráfico surge como uma das poucas alternativas de sobrevivência diante da ausência de políticas públicas e da precarização da vida. Muitas são presas por portar pequenas quantidades de entorpecentes, inseridas nas camadas mais frágeis da economia ilegal, frequentemente assumindo responsabilidades por companheiros, atuando sob coerção ou tentando garantir o sustento dos filhos. Cada uma dessas histórias evidencia a forma como o sistema penal converte a vulnerabilidade em crime e transforma a maternidade, a pobreza e o amor em sentenças.
O racismo institucional se evidencia também fora dos muros da prisão. Em 28 de outubro de 2025, a megaoperação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, resultou em mais de 130 mortos, sendo um dos episódios mais letais da história recente. A brutalidade foi celebrada como “sucesso” pelo governo estadual quando, em verdade, explicita uma política de morte informada como combate ao crime, revelando a face genocida do Estado. Essas chamadas “operações-vingança” são manifestações explícitas de violência estatal e atingem majoritariamente mulheres, mães, esposas, irmãs, filhas, que sofrem a perda e a ausência de homens assassinados ou encarcerados, e que passam a ser elas mesmas alvo de controle, vigilância e punição. A violência armada e a violência carcerária são faces complementares de um mesmo projeto de dominação.
Uma outra dimensão que emerge do encarceramento feminino é a contradição profunda de um Estado que se mostra ausente na garantia de direitos, mas onipresente na punição. O mesmo Estado que falha em prover creches, moradia, saúde e trabalho digno às mulheres negras e pobres, intervém com força e violência quando elas se tornam alvos de suas políticas repressivas. A negligência cotidiana se converte em vigilância e punitivismo que deságua no encarceramento, este regido também pela negligência, revelando um projeto de gestão da pobreza sustentado pela criminalização do cuidado.
A prisão, nesse contexto, atua como um mecanismo de desorganização dos laços afetivos e familiares, especialmente entre mães e filhos. Cada separação imposta pelo cárcere reencena o trauma histórico da escravidão, quando mulheres negras eram arrancadas de suas
crianças em nome da propriedade. Hoje, o mesmo gesto se repete sob o discurso da segurança pública, e o amor materno, que poderia ser um espaço de resistência e reconstrução, é convertido em alvo de controle e suspeição. A mulher em situação prisional é privada de exercer o cuidado, e sua maternidade é reinterpretada como falha moral e risco social.
O cárcere feminino, portanto, não é apenas um instrumento de punição, mas também um dispositivo de regulação da vida e da reprodução. Controlar o corpo das mulheres negras significa controlar sua capacidade de gerar, nutrir e transmitir saberes e afetos que escapem à lógica do Estado. Ao negar-lhes o direito à maternidade plena, à presença e ao cuidado, o sistema penal perpetua a violência colonial sob nova roupagem, reafirmando a estrutura que transforma o amor em culpa e o cuidado em crime. E essa dimensão é uma das mais dolorosas da violência de gênero de Estado, porque, além de ferir essas mulheres diretamente, também fere familiares e comunidades, os laços de vida que sustentam, e são sustentados por elas.
Diante desse cenário de violência institucional e abandono social, a Pastoral Carcerária Nacional ocupa um lugar de rara potência ética e política. Sua presença dentro e fora dos presídios rompe o silêncio imposto pelo Estado e reconfigura o sentido da fé como prática transformadora. A atuação pastoral, enraizada na escuta e na solidariedade, não se limita ao amparo espiritual, pois compreende que a espiritualidade, quando aliada à justiça, tem a força de restituir humanidade onde o sistema penal produz desumanização. A fé, entendida como gesto de compromisso com a vida, torna-se um campo de disputa simbólica e material contra a lógica punitiva que estrutura o Estado.
A afirmação da dignidade humana em espaços marcados pela degradação revela o caráter profundamente político da missão pastoral. A mulher negra em situação prisional, reconhecida como sujeito de direitos e portadora de uma dignidade inalienável, ocupa o centro dessa prática. A fé pastoral, porém, não se contenta com gestos de compaixão ou assistência, pois compreende que o Evangelho, lido a partir das margens, exige a transformação concreta da realidade. Cada visita, cada denúncia e cada ato de escuta se convertem em crítica à estrutura de poder que sustenta o encarceramento em massa. A espiritualidade, nesse horizonte, não se separa da luta por justiça, mas se funde a ela, assumindo a forma de uma política da esperança ativa.
A ação pastoral constitui, portanto, uma verdadeira pedagogia da resistência, construída no cotidiano das prisões, no corpo a corpo com as mulheres privadas de liberdade, na persistência de quem acredita que a vida pode florescer mesmo entre muros e grades.
Enquanto o Estado organiza a pedagogia da morte, baseada na punição e no controle, a Pastoral ergue uma pedagogia da vida, sustentada pela presença e pela palavra.
Essa prática de cuidado e denúncia insere a Pastoral Carcerária na longa tradição de resistência negra e popular no Brasil. Ao articular justiça racial, gênero e espiritualidade, a Pastoral dialoga com as trajetórias históricas da luta negra no Brasil, ecoando também as lutas contemporâneas pelo desencarceramento e pela abolição das prisões. A fé, nesse contexto, deixa de ser refúgio individual e se transforma em força coletiva de enfrentamento, capaz de tensionar as estruturas do Estado e de afirmar a vida como valor inegociável.
O sistema penal opera como uma engrenagem de produção de sofrimento, moldada para gerar corpos disciplinados pela dor. A separação entre mães e filhos, a destruição de laços afetivos e a desumanização cotidiana dentro das prisões constituem práticas que não são exceções, mas fundamentos da forma como o poder se sustenta. A tristeza, nesse contexto, funciona como tecnologia política, um modo de controle emocional e social que enfraquece a capacidade de resistência das pessoas encarceradas e de suas comunidades.
No Brasil, essa máquina de dor encontra seu combustível no racismo. O Estado moderno brasileiro ergueu sua legitimidade sobre a exploração e o sofrimento dos corpos negros e indígenas, transformando o castigo em política pública e o controle em pedagogia social. A prisão, nesse sentido, cumpre papel central como dispositivo que administra e racionaliza a violência herdada da escravidão. Não se trata de um erro ou de uma distorção institucional, mas da continuidade de um projeto político que naturaliza a punição dos pobres e a criminalização da negritude. O cárcere feminino revela, com particular crueldade, como essa estrutura opera sobre as mulheres negras, associando precariedade, maternidade e moralidade a uma suposta incapacidade de gerir a própria vida.
Longe de corrigir comportamentos, a prisão é um instrumento de preservação das hierarquias raciais e patriarcais. Nesse sentido, reformar um sistema fundado na desigualdade equivale a reafirmar sua existência. A verdadeira tarefa está em imaginar e construir práticas de liberdade que substituam o castigo pelo cuidado, e a punição pela reconstrução de vínculos. Essa imaginação política requer não apenas a denúncia das violências, mas a criação de espaços de vida coletiva, solidariedade e autonomia, onde a dignidade humana seja afirmada contra a lógica da punição.
A violência de gênero de Estado, nesse horizonte, aparece como uma das expressões mais evidentes da necropolítica, tendo em vista que não se manifesta apenas no interior das prisões, mas também nas políticas de segurança, saúde, assistência e educação, que reiteram desigualdades e produzem exclusão de modo sistemático. O controle dos corpos femininos, sobretudo os corpos negros e periféricos, constitui o núcleo de um Estado que administra a vida por meio da morte simbólica e física de parte de sua população. Para enfrentar essa estrutura, é necessário mais do que reformas jurídicas ou novas leis, mas estarmos implicados com a formulação de um novo projeto de sociedade, capaz de deslocar as bases do poder e de instaurar outras formas de convivência.
A superação dessa violência passa pela construção de políticas de cuidado, escuta e reparação, que substituam o paradigma do controle por uma ética da vida. Significa reconhecer que a liberdade não é apenas ausência de prisão, mas presença de direitos, de comunidade e de afeto. Significa também compreender que cada corpo negro encarcerado representa não uma falha individual, mas o retrato de um Estado que escolheu punir em vez de proteger. Somente quando o amor e o cuidado forem reconhecidos como formas de justiça será possível interromper o ciclo da tristeza e instaurar uma política da vida em lugar da política da punição.
A Consciência Negra, nesse contexto, ultrapassa o caráter simbólico de uma data e se afirma como prática contínua de libertação coletiva. Representa o exercício de lembrar e reatualizar as resistências negras e femininas que, ao longo da história, sustentaram comunidades, quilombos e famílias sob o peso da exclusão e da violência. O desafio está em romper o silêncio sobre mulheres em situação prisional, reconhecendo que enquanto houver mães presas porque não há alternativas para suas, e dos seus, existências dignas, não haverá democracia plena. O Dia da Consciência Negra torna-se um chamado para a construção prática da liberdade, um lembrete de que justiça se faz com dignidade e promoção de direitos.