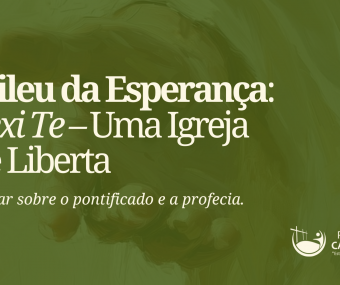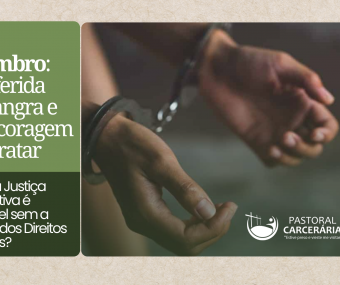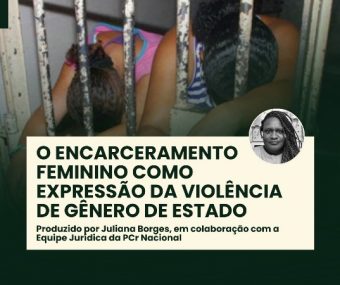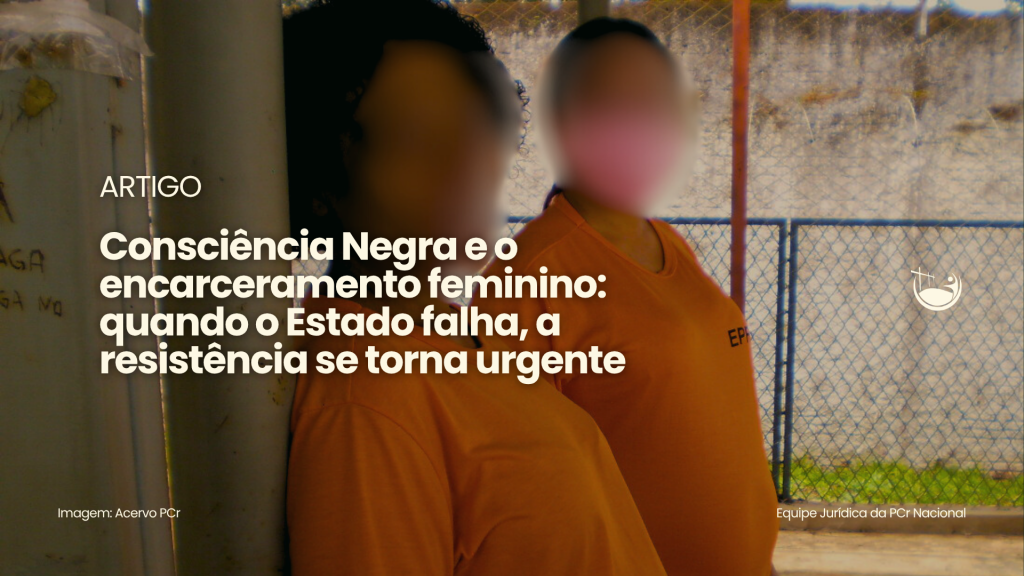
A realidade das mulheres encarceradas no Brasil, especialmente das mulheres negras, exige uma análise à luz dos direitos fundamentais, das intersecções de gênero, raça, classe e maternidade. A legislação brasileira, a jurisprudência recente, tratados internacionais e estudos empíricos indicam caminhos para proteger a dignidade, a vida familiar e a igualdade racial, ainda que na prática esses direitos enfrentem desafios estruturais, como a atuação perpassada pela seletividade penal do judiciário e das polícias.
Direitos Constitucionais e Fundamentais
O Art. 1º, III, da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana, e o Art. 5º, que visa garantir a igualdade formal e proibir a discriminação, são fundamentais para compreender a proteção necessária às mulheres presas. A Proteção à infância (Art. 227) reforça que o Estado deve assegurar o convívio familiar, especialmente para crianças menores de 12 anos, tornando a presença materna um direito prioritário.
Tratados Internacionais
O Brasil, como signatário de importantes convenções de direitos humanos, como a CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher), a Convenção sobre os Direitos da Criança e as Regras de Bangkok, tem a obrigação de adotar medidas específicas para proteger gestantes e mães privadas de liberdade, garantindo-lhes tratamento humanizado e atenção às necessidades de cuidado infantil, assim como às necessidades da própria mulher nesse estágio da vida.
Jurisprudência recente
A jurisprudência do STF e STJ reforça que a presença materna é presumivelmente imprescindível para crianças menores de 12 anos, tornando a prisão domiciliar não apenas um direito, mas uma obrigação do Estado, sempre que não haja risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei. Alguns exemplos de habeas corpus julgados recentemente que demonstram o posicionamento dos tribunais superiores quanto à necessidade de garantia dos direitos das mães, gestantes e lactantes privadas de liberdade:
- HC 444370/SP (STJ, 2018) – Substituição da prisão preventiva por domiciliar de mãe de criança menor de 12 anos.
- HC coletivo 143.641/SP (STF) – Mães, gestantes ou lactantes devem ter prisão preventiva substituída por domiciliar, salvo situações excepcionais.
- HC 250929 (STF, 2024) – Mutirão carcerário para avaliar casos de mães, concretizando o entendimento do HC coletivo.
- HC 87.030/SP (STF) – Reforça progressão de regime para mães de filhos menores em perspectiva humanitária.
- Súmula 536/STF – A prisão provisória de gestantes ou lactantes deve ser excepcional, quando não houver alternativas menos gravosas.
A jurisprudência mais tarde se consolidou no Código de Processo Penal, que passou a prever, em seu Art. 318, a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar nos casos de mães de crianças menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência, gestantes ou lactantes, e também em casos de pais de crianças menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência que comprovarem serem seus únicos cuidadores.
Essas normas e a jurisprudência revelam uma tentativa do direito de se sensibilizar às necessidades das mulheres encarceradas, mas sua implementação, para além de ser deficitária, não resolverá os problemas com relação à prisão de mulheres, posto que, a partir da nova lei de drogas, o encarceramento feminino vem aumentando de maneira alarmante.
Vulnerabilidade estrutural das mulheres negras
A população feminina encarcerada negra enfrenta uma tripla vulnerabilidade: ser mulher em um sistema prisional majoritariamente masculino e ser negra e pobre em um sistema de justiça historicamente seletivo. Estudos recentes mostram:
- Cerca de 68% das mulheres presas no Brasil são negras (pretas ou pardas).
- Aproximadamente 74% são mães, muitas com filhos sob sua responsabilidade direta.
- Grande parte são jovens (18-34 anos), com baixa escolaridade e que se encontravam em condições de vida precárias antes da prisão.
Essa realidade evidencia que o encarceramento feminino negro não é apenas questão de cumprimento de pena, mas expressão de desigualdades raciais e socioeconômicas históricas, que se refletem diretamente no enfoque que a seletividade penal dá à população negra e pobre, baseada na discriminação estrutural.
Papel do sistema legal
A legislação e a jurisprudência recentes apontam caminhos para reduzir a vulnerabilidade de mulheres negras no cárcere: a possibilidade de prisão domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças menores de 12 anos; o reconhecimento, pelo STF e pelo STJ, da imprescindibilidade materna como regra; e a reafirmação do princípio da dignidade humana e da igualdade racial, fortalecida por decisões de 2024 que vedam abordagens policiais baseadas em raça ou aparência.
Nada disso, porém, se concretiza automaticamente. A eficácia desses dispositivos depende de uma justiça que funcione, de magistrados sensíveis à realidade racial e social das mulheres encarceradas e da atuação vigilante da advocacia, das pastorais e dos movimentos sociais. Sem isso, leis e princípios permanecem como promessas abstratas. Apenas a pressão popular pode reivindicar mudanças mais significativas e que vão de acordo com os reais interesses populares. Não é papel do Judiciário alterar a lei de drogas que leva à criminalização de inúmeras mulheres brasileiras, ou seja, a sua interpretação sobre as leis só pode ir até certo ponto, de forma que a alteração dessas leis que propagam o racismo institucional deve ser uma luta social. O judiciário não pode levar à abolição do sistema prisional, que tanto machuca pessoas pretas e pobres, que jamais ressocializa. Essa é uma luta popular.
O Estado, que se omite quando deveria garantir saúde, educação e bem-estar, aparece com força apenas para punir: não oferece berçários, mas ergue celas; não assegura cuidados, mas reforça a vigilância. E é importante lembrar que não é o direito, por si só, que transforma o mundo, até muito recentemente, o próprio direito servia para criminalizar a pobreza e legitimar desigualdades. A mudança real depende de como, e para quem, as normas são usadas.
Uma perspectiva política e social
Reconhecer essas mulheres como humanas, mães e cidadãs não é apenas uma questão jurídica: é um ato político de resistência. Garantir que o cuidado não seja crime é enfrentar um Estado que naturalizou a dor. A Consciência Negra, portanto, não é apenas memória: é compromisso com a liberdade, a igualdade e a dignidade humana.
Bibliografia e Referências
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13769.htm
- https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/hc143641final3pdfvoto.pdf
- https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/4392641239/inteiro-teor-4392641428
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/TD_presentations/Day_2/GRULAC_Carolina_SOARES_Session_2.pdf