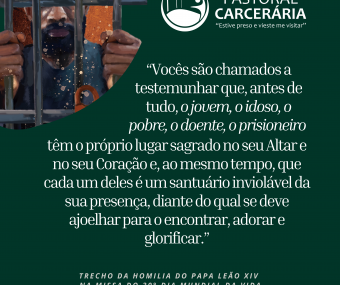Apesar de já largamente esquecido por grande parte dos brasileiros, o massacre do Compaj, como o episódio ficou conhecido, foi o estopim de uma série de matanças, que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) classificou como “o episódio mais grave de violação dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade de que se tem notícia em nosso país.”
Leia também: :: Pior massacre do sistema prisional do Amazonas completa um ano ::
Em 6 de janeiro, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, 33 presos foram assassinados durante a madrugada. Nove dias depois, na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, outros 26 detentos foram mortos.
Segundo dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, pelo menos 305 presos perderam a vida apenas em janeiro de 2017. Desse total, 169 mortes foram registradas como criminais ou violentas, 107 como naturais ou acidentais 10 como suicídio e outras 19 não tiveram a causa identificada.
O número é provavelmente maior, considerando que à época do levantamento — feito no âmbito da minha pesquisa de mestrado, na Unifesp — Acre, Bahia, Piauí e Paraná não responderam ou se negaram a fornecer os dados solicitados.

Portão principal do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na capital amazonense, onde 56 detentos foram mortos em uma rebelião / Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
Sob qualquer ângulo, o massacre do Compaj foi uma tragédia, e, de forma alguma, um acidente imprevisível.
Em abril de 2015, quando visitei as prisões manauaras pela Pastoral Carcerária Nacional, o clima era de conflagração e os presos alertavam abertamente para o risco de mortes orquestradas pela facção dominante no sistema, a Família do Norte (FDN). O mesmo aviso foi feito publicamente pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do governo federal, em relatório de inspeção de 2016.
:: Pastoral alerta governo do AM: más condições podem levar a nova tragédia nas prisões ::
Mas nenhuma medida efetiva foi adotada pelo Executivo ou Judiciário para salvaguardar a vida e a integridade física dos presos ameaçados. O Estado assistiu de camarote ao desenrolar da catástrofe.
Em que pese esse fato, nenhuma autoridade, gestor privado — o Compaj era gerido pela empresa Umanizzare — ou agente público jamais foi responsabilizado pelo massacre. Os poucos processos existentes foram arquivados. Já as investigações sobre as relações entre a administração prisional amazonense e a FDN desapareceram do horizonte.
Restam apenas magras ações indenizatórias, em benefício dos familiares de algumas das vítimas, e um processo criminal contra os próprios presos, que tramita sob sigilo na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus.
Questionado sobre as responsabilidades pelo episódio, um dia depois da matança no Compaj, o então Secretário de Segurança do Amazonas, Sérgio Fontes, respondeu que “todos têm culpa e ninguém tem culpa”. O governador do estado, José Melo, foi menos elusivo, afirmando que “não havia nenhum santo” entre os mortos.
::Leia mais: Em Manaus, pastoral denuncia tortura e proibição de contato com presos para controle
Por trás dessa curiosa inversão ética feita pelos dirigentes amazonenses, há uma velha estratégia dos poderosos de não assumir responsabilidade alguma, ou apenas reivindicar uma culpa geral, abstrata e sem consequências — tal como fez o criminoso nazista Adolf Eichmann, que se declarou culpado perante Deus; não perante a lei.
Mas passados 5 anos dos massacres, o que exatamente mudou?
Absolutamente nada. As condições de encarceramento que possibilitaram as mortes permanecem exatamente as mesmas: superlotação, insalubridade, ausência de serviços básicos e violência generalizada. Além disso, o agenciamento das facções de presos (para pacificar, punir ou gerenciar rotinas prisionais), permanece um dos mais sólidos pilares da administração penitenciária brasileira.
No sistema de morte e degradação criado pelo encarceramento em massa, os massacres finalmente tornaram-se um mero epifenômeno, que não gera mais escândalo e dispensa a ação direta das forças de segurança. Ocorreram novamente em 2019 — no Compaj e na Penitenciária de Altamira, no Pará — e voltarão a ocorrer num futuro próximo.
:: Raio-x da Umanizzare, a empresa que administra os presídios em que 55 foram mortos ::
À vista de todos (e aplausos de alguns), pessoas sob a custódia do Estado foram retalhadas e entregues em pedaços aos seus familiares. Corpos quase todos pardos — que representam cerca de 70% da população prisional amazonense — , cuja humanidade há muito já nos habituamos a relativizar.
Os massacres de janeiro de 2017 não demarcaram uma “crise”, como se anunciou, mas o momento mais saliente de um projeto racista e extermicida, que demanda a colaboração de poucos e o silêncio de muitos.
*Paulo Malvezzi é advogado e mestre em Filosofia pela Universidade Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É co-fundador da Agência Diadorim de jornalismo independente e LGBTI+ e colabora com diversas organizações e movimentos de direitos humanos e antiprisionais. Foi coordenador geral do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim) e assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional.
**Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial do jornal Brasil de Fato.
Edição: Vivian Virissimo