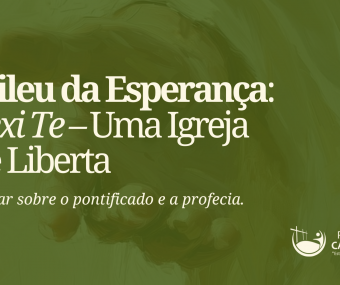A justiça restaurativa nasce do reconhecimento de que o dano não é apenas a violação de uma norma, mas a ruptura de relações, de pertencimento e, sobretudo, da dignidade humana. O rosto da criança não é um pedido de caridade; é uma interpelação moral. Ele pergunta: quem falhou antes que fosse necessário falar em justiça?
A justiça restaurativa nasce do reconhecimento de que o dano não é apenas a violação de uma norma, mas a ruptura de relações, de pertencimento e, sobretudo, da dignidade humana. O rosto da criança não é um pedido de caridade; é uma interpelação moral. Ele pergunta: quem falhou antes que fosse necessário falar em justiça?
Nessa perspectiva, justiça restaurativa não começa no conflito formal, nem no sistema penal, mas nas desigualdades estruturais que negam condições mínimas de existência digna. Quando uma criança cresce à margem, o dano já está em curso e foi produzido coletivamente.
Restaurar, aqui, não é “corrigir comportamentos”, mas reconstruir vínculos sociais rompidos por injustiças históricas, econômicas e raciais.
O risco da estetização do sofrimento
A imagem também nos provoca a refletir criticamente sobre como o sofrimento é frequentemente convertido em linguagem institucional, campanhas, discursos e até produtos. O apelo visual mobiliza emoções e isso pode ser potência ética, mas também risco.
Quando imagens como essa circulam sem compromisso com transformação estrutural, elas correm o perigo de: Naturalizar a desigualdade, Individualizar a dor, Transformar a injustiça em objeto de consumo simbólico.
A justiça restaurativa, quando reduzida à narrativa inspiradora, perde sua força política e se transforma em retórica de conforto para consciências privilegiadas. A mercantilização das práticas restaurativas. Aqui emerge uma crítica necessária: o mercado de consumo das práticas restaurativas.
Nos últimos anos, a justiça restaurativa tem sido incorporada por consultorias, cursos de alto custo, certificações privadas, pacotes institucionais padronizados. Esse processo gera contradições profundas: Justiça como produto.
Quando práticas restaurativas passam a ser vendidas a valores inacessíveis para as próprias comunidades mais afetadas pela violência, ocorre uma inversão ética: quem mais precisa da restauração é quem menos pode acessá-la.
Técnica sem transformação
A justiça restaurativa não é um método neutro. Quando ela é ensinada como ferramenta descontextualizada, perde sua dimensão política e comunitária, tornando-se apenas mais uma técnica de gestão de conflitos útil ao sistema, mas incapaz de questioná-lo.
Capitalização da dor
Há um risco real de que histórias de sofrimento como a simbolizada pela criança na imagem sejam usadas para legitimar projetos caros, eventos, discursos e marcas pessoais, sem redistribuição real de poder, recursos ou voz. Isso não restaura. Isso explora.
Justiça restaurativa como prática contra-hegemônica
Uma leitura coerente com a justiça restaurativa exige inverter a lógica do mercado: Não é a comunidade que deve se adaptar à metodologia. É a metodologia que deve nascer da comunidade.
A imagem nos lembra que dignidade não se “implementa”, não se “vende” e não se “certifica”. Ela se constrói coletivamente, com escuta radical, redistribuição de recursos e reconhecimento das assimetrias de poder.
Uma justiça restaurativa fiel às suas origens:
é popular,
é acessível,
é politicamente situada,
e incomoda estruturas que lucram com o conflito
Este é o olhar que nos interpela.O olhar da criança não nos pede soluções rápidas, nem projetos caros. Ele nos interpela.Interpela uma sociedade que fala de direitos humanos enquanto lucra com a sua negação. Interpela práticas restaurativas que esquecem que restaurar é devolver humanidade, não gerar capital simbólico ou financeiro.
Se a dignidade não pode deixar de existir, então a justiça restaurativa não pode ser mercadoria.
Ela deve ser compromisso ético radical com a vida, especialmente com aquelas vidas que o mercado insiste em transformar em imagem, dado ou oportunidade. Essa é a restauração que a imagem exige.
Texto: Vera Dalzotto, Assessora Nacional da Pastoral Carcerária para a Questão da Justiça Restaurativa.