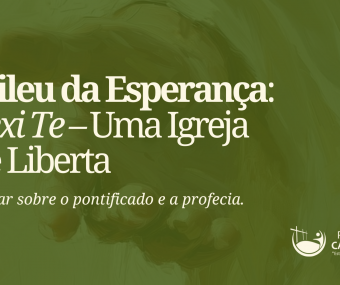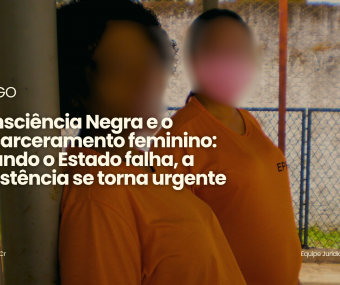Reproduzimos a seguir a íntegra do artigo publicado no site da revista Le Monde Diplomatique Brasil, de autoria de Fábio Mallart, doutorando em Sociologia pela USP (bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e autor do livro Cadeias dominadas: a Fundação Casa, suas dinâmicas e as trajetórias de jovens internos, Terceiro Nome/Fapesp, São Paulo, 2014; e Rafael Godoi é pós-doutorando em Sociologia pela USP. Ambos são agentes da Pastoral Carcerária e integrantes do Projeto Temático Fapesp (2014-2018) – A gestão do conflito na produção da cidade contemporânea: a experiência paulista.
Vidas matáveis, morte em vida e morte de fato
Treze de agosto de 2015, 23h09, município de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Três homens encapuzados chegam em um carro prata. Com armas em punho, rendem os clientes de um bar – cerca de dez homens – e os direcionam para o fundo do estabelecimento, fazendo que coloquem as mãos sobre a cabeça. Em seguida, ordenam todos os corpos em fila indiana. Os encapuzados, então, partem para a seleção daqueles que serão executados. Em primeiro lugar, perguntam se alguém possui drogas, questionamento respondido por todos negativamente. Em um segundo momento, perguntam se algum dos presentes tem passagem, critério decisivo na gestão da vida e da morte. Após um breve silêncio, dois rapazes respondem positivamente – entre eles, J.P., com antecedentes criminais por roubo e tentativa de homicídio. Os dois são prontamente destacados do resto do grupo e, em seguida, friamente executados. Os matadores, com calma e tranquilidade, saem do bar atirando e vão embora.
Tal episódio não pode ser qualificado como um “fato isolado”; o procedimento é típico. Segundo relatório elaborado pelo International Human Rights Clinic, de Harvard, em parceria com a ONG Justiça Global e divulgado em 2011, um número expressivo de vítimas com antecedentes criminais figura entre as dezenas e dezenas de mortos em chacinas e supostos “confrontos” com a força policial que se espalharam pelo estado de São Paulo em maio de 2006, durante os chamados “ataques do PCC”. (1) O relatório revela que, em alguns casos, momentos antes da morte ou do desaparecimento, a “ficha criminal” da vítima foi consultada por policiais, via rádio; revela ainda que, na seleção dos possíveis mortos, os executores também se valiam de outros indícios de passagem, principalmente as típicas tatuagens monocromáticas produzidas nas prisões.
Para os matadores encapuzados, a passagem pelo sistema de justiça criminal e, mais especificamente, pelo sistema carcerário opera como um critério privilegiado de seleção, linha demarcatória entre aqueles que devem morrer e os que podem viver. O mesmo critério, e não se trata de mera coincidência, se aplica às mortes provocadas por policiais militares em serviço. Nesse ponto, o Massacre do Carandiru é emblemático. A execução de ao menos 111 pessoas rendidas e desarmadas na extinta Casa de Detenção de São Paulo foi por muito tempo – e em grande medida ainda é – vista por autoridades do governo e da justiça como decorrência do “estrito cumprimento do dever legal”. Como mostram os estudos recém-publicados de Marta Machado e Maíra Machado, da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas, (2) foi com base nesse entendimento que em 2006 o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão do Tribunal do Júri, que em 2001 havia condenado o coronel Ubiratan Guimarães, comandante direto da operação, a mais de seiscentos anos de prisão. Ao identificarem contradições na decisão dos jurados, em vez de anular e remarcar o julgamento, os desembargadores optaram pela absolvição do réu, numa manobra jurídica, no mínimo, heterodoxa. Ainda segundo as pesquisadoras, mesmo após os julgamentos de 2013 e 2014, durante os quais dezenas de policiais militares foram condenados em primeira instância, mais de vinte anos depois o processo do Carandiru permanece em aberto: a responsabilidade das autoridades administrativas e judiciais diretamente implicadas no caso – por ação ou omissão – nunca foi apurada; as medidas de reparação aos familiares das vítimas são irrisórias; por sua vez, os órgãos oficiais de segurança pública e administração penitenciária nem sequer reconhecem que no dia 2 de outubro de 1992 houve um massacre.
É bem verdade que, depois de tal acontecimento, policiais já não entram nas prisões atirando a esmo. Porém, ainda hoje, a lógica perversa que autoriza e promove o assassinato de pessoas qualificadas como “bandidos” permanece em vigor nas ruas da cidade. Não pode ser outra a constatação diante das imagens de policiais abordando suspeitos, executando-os e, em seguida, forjando a cena de um “confronto”, como ocorrido na capital paulista em novembro de 2012, no Campo Limpo, e em setembro de 2015, no Butantã. O uso deliberado, excessivo e desproporcional de força letal caracteriza o modus operandi da polícia militar, como mostram as cenas exibidas ao vivo, em junho de 2015, na Rede Record e na TV Bandeirantes, de um policial desferindo seguidos disparos em dois suspeitos rendidos e desarmados, caídos ao chão, após perseguição. Ressaltam-se ainda as ressonâncias que tal modo de operação encontra nos veículos de comunicação da grande imprensa – mas também em grande parte da população –, com execuções justificadas pela lógica do tinha passagem ou do quem não reagiu está vivo. São múltiplos os discursos que fortalecem a visão do “bandido” e, em particular, do “ex-presidiário” como figuras preferencialmente matáveis. Na grande imprensa, quando se noticia que a polícia matou um suspeito, logo se justifica o ato evocando os antecedentes criminais do morto; ou, pelo contrário, mas com o mesmo efeito, quando se noticia que a polícia matou um “inocente”, um “trabalhador”, condena-se o fato de ela não ter matado um “bandido”. Nesse sentido, constata-se – em carne e sangue – uma das dimensões de produtividade do dispositivo carcerário: a produção de vidas matáveis.
Fora da prisão, mas sem se desvincular dela, a gestão da vida e da morte pode se efetuar em questão de segundos. Dentro das muralhas, por sua vez, essa mesma gestão se dá de forma lenta, dolorosa e gradual. Ritmos e intensidades variados, mas que têm como ponto de conexão a passagem pelo sistema. Do início ao fim, a trajetória do sujeito pelas instâncias da lei e da ordem se constitui no limiar entre a vida e a morte, a começar pelo ato da prisão, no qual as arbitrariedades e as torturas são constitutivas do modo de operação policial – como demonstra pesquisa do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania em parceria com a Pastoral Carcerária, divulgada em 2012. (3) Enquanto aguardam julgamento, os presos provisórios são confinados por meses, às vezes anos, nas celas mais superlotadas do sistema: no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros II, por exemplo, em outubro de 2015, segundo dados da própria Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), são 1.575 presos para 517 vagas. Muitos deles, quando condenados, já terão cumprido sua pena. Há outros que, após a condenação, receberão penas alternativas e, portanto, não restritivas de liberdade, o que aponta para uma evidente incoerência processual penal. Durante o período de encarceramento, marcado pela superlotação, o Estado não fornece vestuário completo, itens básicos de higiene pessoal nem suficientes produtos de limpeza, segundo dados extraídos da Secretaria de Administração Penitenciária pela Defensoria Pública de São Paulo. O ócio é praticamente obrigatório, uma vez que o acesso ao estudo e ao trabalho é muito restrito. Quando há trabalho, visto pela administração prisional como um prêmio, este se caracteriza pelo salário irrisório, pelas condições insalubres e por atividades mecânicas, como a confecção de bolas, que não oferecem horizonte após as grades. Dados compilados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) mostram que, em dezembro de 2012, menos de 25% da população carcerária do estado de São Paulo estava envolvida em atividades de trabalho.
Em São Paulo, ademais, a alocação preferencial das penitenciárias em regiões distantes no interior do estado, o chamado “fundão”, dificulta a manutenção de vínculos entre os presos e seus familiares, geralmente habitantes de áreas pobres e periféricas dos maiores centros urbanos. Vale salientar que os caminhões que transportam os presos, os “bondes”, por exemplo, para audiências judiciais, são verdadeiras máquinas de tortura. São comuns os relatos de que tais veículos são estacionados, por horas e horas, debaixo do sol, procedimento conhecido como micro-ondas devido às altas temperaturas. Somam-se a isso as narrativas de que bombas de gás lacrimogêneo são lançadas nos presos, em trajetos que podem durar cinco, sete e até dez horas de viagem. Todos e cada um desses fatores concorrem para fazer da prisão um espaço de morte em vida.
A produtividade da prisão: vida matável, morte em vida e morte de fato. Não se pode olvidar que o ambiente prisional adoece o corpo e a alma. A saúde de ninguém passa ilesa pelas péssimas condições de alimentação, pelo frio ou pelo calor extremo que emanam do concreto conforme a estação, pelos anos a fio dormindo no chão. Além disso, contágios de tuberculose, doenças de pele, hepatite etc. são frequentes e especialmente agudos numa prisão sempre superlotada. O quadro se complica ainda mais quando, num espaço que leva ao adoecimento, a assistência médica é praticamente inexistente. Como dizem os presos: “Se você tem dor de barriga, te dão paracetamol, se você tá vomitando, te dão paracetamol, pra tudo te dão paracetamol”. A escassez de médicos, enfermeiros, remédios e leitos adequados provoca em quem adoece na prisão um efeito que é quase o do homicídio doloso, e, quando se consideram as dimensões do sistema penitenciário, esse homicídio assume as proporções de um verdadeiro massacre, ainda que de forma mais lenta, gradual e imperceptível. Não há uma unidade, um local sequer no sistema prisional em que não exista um ou muitos doentes graves aguardando há meses por um exame, uma consulta, um remédio, um médico, um tratamento, uma cirurgia. A inexistência de assistência médica adequada no interior de uma prisão que adoece transforma enfermidades leves em doenças incuráveis; sintomas, em quadros irreversíveis; esperas, em óbitos. É verdade que o quadro do sistema público de saúde é mais ou menos o mesmo para a população pobre e em liberdade, porém, no ambiente prisional, o descaso com a saúde tem consequências ainda mais mortíferas, seja pela precariedade das condições de existência, seja pela impossibilidade de o preso buscar autonomamente alternativas, ficando à mercê de um agente de segurança penitenciária ou de um diretor de disciplina. Ademais, pesam também as enfermidades da alma, que derivam da indiferença da justiça, da violência cotidiana, da ausência da família e de outras mazelas amplamente disseminadas e que, muitas vezes, desembocam no suicídio – morte que, na prisão, não pode deixar de ser também provocada. São essas condições degradantes que muitos presos e presas citam para explicar o consumo de pílulas psiquiátricas, referindo-se ao fato de que começaram a ingerir tais substâncias porque, entre outros sintomas, não conseguem dormir ou comer, ficam ansiosos. No sistema prisional, sintomas decorrentes da própria experiência do encarceramento em massa sãoobjeto de medicalização. No limite, as condições mortíferas do sistema produzem efeitos que são geridos por meio de pílulas psiquiátricas, lembrando que há unidades em que nem sequer há um psiquiatra. Nesse sentido, os medicamentos são um mecanismo de administração de corpos e mentes, mas também uma técnica de gestão da população, do espaço superlotado. Curioso, pois, se em muitas unidades nota-se a ausência de medicamentos para diversas enfermidades, nesses mesmos espaços institucionais não se constata, na mesma proporção, a ausência de pílulas psiquiátricas.
Eis o circuito perverso no qual se cogita inserir ainda mais cedo amplas parcelas da juventude negra, pobre e periférica, ao se propor a redução da maioridade penal, ou mesmo quando se anuncia o fechamento de inúmeras escolas públicas – paralelamente à expansão de unidades prisionais. Com efeito, o encarceramento vem sendo nos últimos anos não só uma das políticas públicas mais constantes e longevas de nossos tempos, mas também um ponto de convergência e indistinção entre as forças político-partidárias que se digladiam em outras esferas do poder. Eis o aparato de produção de dor e sofrimento que legisladores e interesses escusos pretendem converter em fonte de lucro privado, com propostas de privatização e de parceria público-privada (PPP). Eis o produto de cada decisão e trâmite de um sistema de justiça nobiliárquico, mais ocupado com a elevação de seus rendimentos do que com a observância da lei.
A reversão desse estado de coisas se mostra tão difícil quanto necessária. Outras formas de promover segurança, resolver conflitos e fazer justiça devem ser promovidas e, no limite, construídas. Mesmo nos Estados Unidos, paradigma do encarceramento maciço, as estratégias da “guerra ao crime” e da “guerra às drogas” vêm sendo colocadas em dúvida, como se evidencia em declarações recentes do presidente Barack Obama. No Brasil, movimentos sociais e forças da sociedade civil organizada já se articulam nesse sentido. Em 2014, entidades como a Pastoral Carcerária, a Pastoral da Juventude, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) e movimentos sociais como as Mães de Maio e a Rede 02 de Outubro, entre outros coletivos, lançaram a “Agenda Nacional pelo Desencarceramento”. (4) Nesse documento figura um conjunto de propostas, de aplicação imediata, que visa frear o processo inflacionário do sistema prisional, bem como deter o círculo vicioso que articula prisão e letalidade. Entre as propostas, destacam-se: 1) a suspensão de qualquer verba destinada à construção de novas unidades prisionais; 2) a construção de um plano de redução da população prisional e dos danos causados pela prisão, que implique igualmente os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 3) a máxima limitação da aplicação de prisões cautelares; 4) a descriminalização do uso e comércio de drogas; 5) a abertura dos cárceres, das esferas de governo e dos órgãos de segurança e justiça ao monitoramento externo, independente e popular; e 6) a desmilitarização das polícias e da gestão pública.
Em tempos de incerteza, de instabilidade institucional e de investidas contra o povo pobre, negro e periférico, a sociedade civil organizada, as forças políticas progressistas e, sobretudo, os grupos sociais mais atingidos pelo encarceramento já não podem se limitar à lógica eleitoreira do “mal menor”. Antes, se faz necessário recusar o intolerável e, ao mesmo tempo, afirmar um novo horizonte de possibilidades.
Referências
1 International Human Rights Clinic e Justiça Global, São Paulo sob achaque: corrupção, crime organizado e violência institucional em maio de 2006, Human Rights Program at Harvard School e Justiça Global Brasil, São Paulo, 2011.
2 Maíra R. Machado e Marta R. A. Machado (orgs.), Carandiru não é coisa do passado: um balanço sobre os processos, as instituições e as narrativas 23 anos após o massacre, FGV, São Paulo, 2015.
3 Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e Pastoral Carcerária, Tecer justiça: presas e presos provisórios da cidade de São Paulo, Open Society/Paulus, São Paulo, 2012.
4 Agenda completa disponível em: https://carceraria.org.br/agenda-nacional-pelo-desencarceramento.html