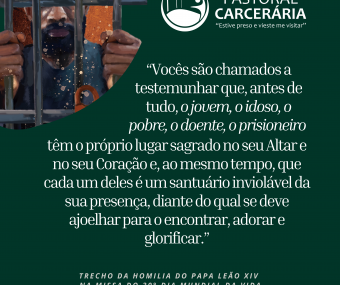Catarina Barbosa
Do Brasil de Fato
Exatos oito dias após o massacre no Centro de Recuperação de Altamira, a 830 km de Belém, onde 58 pessoas foram brutalmente assassinadas, foi realizada a primeira vistoria no presídio. Na última terça-feira (6), o Brasil de Fato esteve no local e acompanhou o trabalho de entidades ligadas aos direitos humanos e das defensorias públicas do Estado e da União.

O objetivo era verificar as condições dos detentos. Os relatos são de maus-tratos e de retaliação aos que ficaram. Os presos passaram uma semana vestido a mesma cueca durante todo esse período. Foram mais de 168 horas sem colchões, dormindo em um chão infecto que mistura urina e fezes de gato.
Os doentes estão privados de suas medicações. O argumento da direção do presídio é que a determinação obedece a uma portaria nacional e que está sendo cumprida pelo governo do Estado.
No interior do presídio, cuja capacidade divulgada pela Comissão Nacional de Justiça (CNJ) é de 163 pessoas, permanecem 209 homens, após as transferências da última semana.
A Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) contraria o dado da CNJ e afirma que o Centro de Recuperação comporta 208 presos. Isso graças às celas-contêiner utilizadas na unidade e que apresentam condições precárias de permanência para os detentos.
No dia do motim, 287 homens cumpriam pena em regime fechado e 22 em semiaberto. Como a rebelião ocorreu pela manhã, quando os detentos do regime semiaberto ainda não haviam deixado o local, havia 309 pessoas na unidade. Quase duas vezes a capacidade informada pela CNJ.
A inspeção foi guiada pela diretora do presídio, a advogada Patrícia Abucater que escolheu onde poderíamos ou não entrar. A entrada no Bloco B, no qual se concentram a maior parte das violações listadas nesta reportagem, foi negada pela direção.
A fiscalização com itens de segurança
O rigor para entrar no presídio acende o questionamento sobre como é possível haver celulares e armas no dia a dia do local. Sob um sol escaldante de 33 graus, a reportagem do Brasil de Fato se organizava para entrar na penitenciária junto a representantes da Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária e de membros da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e das defensorias pública estadual e da União.
Essa seria a primeira vez que os detentos falariam com pessoas que não fossem agentes prisionais ou funcionários do sistema penitenciário. Do lado de dentro, um silêncio sepulcro parecia negar que 209 pessoas vivem ali, respondendo ou esperando serem julgadas por algum delito. Do lado de fora, a ansiedade estava estampada no rosto de todos os visitantes.
Antes de entrar, um guarda com a farda da polícia militar e um fuzil na mão respondeu brevemente a alguns questionamentos. Do outro lado, dois grandes portões de ferro guardam o lugar. Na porta de entrada, em uma espécie de guarita, com janelas de vidro, outro guarda recolhe os documentos de todos e registra os dados em um caderno preto. Antes de iniciar qualquer conversa, ele informa que não é permitido entrar com celular ou qualquer equipamento eletrônico.
Entregamos crachá da instituição que representamos e um documento de identificação. A visita havia sido solicitada pela Pastoral Carcerária desde o dia da rebelião, mas só na última terça-feira (6) foi autorizada.
Ao passar pelo detector de metais havia outra medida de segurança. No lugar pequeno, com janelas também pequenas e pouca iluminação, uma enorme máquina ocupa boa parte do espaço. Antes mesmo de entrar no presídio já é possível se sentir em uma prisão. O lugar é opressor e, muitas vezes, sufocante. Falta ar.
Em poucos minutos tomamos conhecimento de que a grande máquina é capaz de ver o corpo inteiro de qualquer pessoa, permitindo que se saiba se há o transporte ou não algo que seja proibido de entrar na casa penal. Sou convidada a entrar no equipamento, mas antes coloco a minha digital no espaço colado à porta de entrada.
Polegar direito registrado e automaticamente estou inscrita no Infopen, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Entro no equipamento e recebo a instrução de ficar imóvel. A porta se fecha, o local fica escuro e uma esteira me arrasta para o lado e posso sair.
Cerca de 20 minutos após os procedimentos de segurança terem sido concluídos e a diretora da casa penitenciária, Patrícia Abucater, acha prudente, pelo número de pessoas, acionar o Grupo Tático Operacional (GTO) a fim de acompanhar a inspeção. Esperamos mais meia hora para eles se equiparem e somente assim somos autorizados a entrar.
Depois da espera, seis homens do Grupo Tático passam à nossa frente fardados de preto, encapuzados e com capacete. O que toma a dianteira abre caminho com um escudo da tropa de choque nas mãos, os outros o acompanham com fuzis marchando em silêncio e com semblantes sisudos, como se estivessem entrando em operação.
A tranquilidade no presídio onde pessoas foram decapitadas
Ao entrar, encontro um pátio vazio e limpo, em tons de amarelo. Do lado esquerdo vemos o que sobrou de um espaço incendiado durante a rebelião. As janelas estão quebradas e dentro o que restou de colchões, travesseiros e cadeiras incineradas.
O lugar está tão arrumado, silencioso e tranquilo que é difícil acreditar que, há pouco mais de uma semana, estava coberto por sangue e corpos decapitados e esquartejados. A diretora informa que aproximadamente 300 colchões foram queimados durante o motim.
Os primeiros detentos a que temos acesso estão em um local que a diretora chamou de celas de manutenção. Na primeira delas, dois homens. Um deles segura a bíblia com as duas mãos. Questionado por Padre Patrício, membro da Pastoral Carcerária, sobre o motim, ambos respondem que foram poupados. O outro completa: “É a segunda rebelião a que eu sobrevivo”, diz levantando as mãos para o céu. Durante o motim, integrantes envolvidos no massacre abriram as celas e pediram que eles saíssem com as mãos na cabeça e fossem para o pátio.
O lugar é de pouca iluminação, mas estava limpo, apesar das paredes com tintas descascando e grades enferrujadas. “Aqui é ala de presos de menor perigo”, afirma a diretora. Tirando os dois, o espaço é tão silencioso que parece não ter mais ninguém.
Prisão silenciosa
A diretora, então, nos direciona ao local que dá acesso ao Bloco A. Para a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, Irmã Petra Silvia Pfaller, a visita acompanhada da diretora ajuda a maquiar a realidade do presídio. “Eu confesso que não gosto muito desse tipo de visita, mas foi o que conseguimos e o importante é que conseguimos entrar”, fala.
O acesso é abafado e escuro, mesmo que não tenha grades. Segundo a diretora, por segurança, não podemos visitar nenhuma das celas. Nesse local, elas são sete. No Bloco B, mais sete.
A iluminação dessa espécie de corredor pelo qual entramos é garantida apenas pelas frestas do telhado e pela luz de entrada e saída do local. As paredes não nos revelam de qual cor o lugar é pintado, tamanha a deterioração. O chão tem cor vermelha e é feito de cimento queimado. Estava úmido, o que indica que teria sido recentemente lavado.
De uma parede à outra, não há mais que um metro e meio de largura. O lugar é tão estreito que você se sente esmagado por todos os lados. A sensação é de estar preso mesmo que não esteja algemado. Acima, o telhado baixo está coberto por teias de aranha. Ao fundo, braços e olhos dos detentos dentro das celas. Apesar de ter os braços pendurados nas grandes e olharem em nossa direção, eles não emitem som algum. Parecem estátuas.
A ausência das palavras anuncia o medo que todos sentem. Irmã Petra, da Pastoral Carcerária, conta que já visitou presídios no Brasil inteiro e nunca viu tamanho silêncio. “O que me chamou a atenção foi que os presos falaram pouco. Normalmente, em uma visita com muitas pessoas, eles se agitam, pedem ajuda, mas desta vez não. O ambiente era tenso, os presos estavam com medo e a diretora apreensiva. Pedi para entrar no Bloco B para levar uma palavra de oração aos presos, mas não fui autorizada. Esse impeditivo é um alerta sempre”, resume.
A tensão da qual fala a freira pode ser sentida por qualquer um ali dentro, até mesmo entre os agentes penitenciários. Ao olhar para eles, muitos desviam o olhar e baixam a cabeça. Parecem tão acuados quanto os presos.
168 horas vestindo a mesma cueca e dormindo em um chão com urina humana e fezes de gato
No chão do espaço que dá acesso ao Bloco A, sete sacolas grandes plásticas e cheias de roupas denunciam que as pessoas não tinham recebido a vestimenta enviada pelos seus familiares. Do contrário, elas não estariam ensacadas no corredor.
Dos mais de oito detentos ouvidos pela reportagem do Brasil de Fato, houve um consenso quando questionados se estavam recebendo roupa ou comida dos parentes. “Eles não estavam deixando entrar”.
José Carlos* conta que desde a semana passada ele e outros presos usaram apenas cueca. E a mesma cueca. Situação que fez até com que alguns contraíssem micose nas partes íntimas, já que passaram aproximadamente 168 horas usando a mesma roupa.
Os detentos relatam que a ala onde a rebelião aconteceu não está sendo limpa e tem péssimas condições de higiene.
Paulo Silva* diz que no Bloco B, onde não fomos autorizados a entrar, o cheiro é insuportável, a urina que se mistura com fezes de gatos. Durante a vistoria vimos mais de quatro animais diferentes, soltos pelo presídio.
Silva implorou ajuda para que fosse autorizada a entrada de material de limpeza, um rodo, uma vassoura, um sabão para que ele pudesse lavar a cela.
Na última segunda-feira (5), a Comissão Pastoral Carcerária tentou entrar no local, mas foi impedida com o argumento de que o mesmo passava por manutenção.
As roupas foram entregues no dia anterior à visita ou cedidas por algum colega de cela ou ainda pertencia a um dos detentos assassinados. “Há relatos de presos com a roupa de mortos. A polícia tirou toda a roupa, colchões foram tirados e colocados no lixo e devolvido aos presos já limpos, porque estavam sujas de sangue”, revela Irmã Petra, da Pastoral Carcerária.
Um dos homens ouvidos pela reportagem confirmou o fato ao apontar para o próprio corpo e dizer: “Essa roupa é de um dos detentos assassinados”, disse mostrando a vestimenta.
Independente a quem a roupa pertencia ou pertenceu, uma coisa é certa: era a única, somente a única que tinham.
Cela-contêiner, a jaula de seres humanos
O lugar mais crítico cuja permissão da visita foi autorizada pela diretora do presídio foram as celas-contêiners. O acesso a elas pode ser feito de duas formas, ou por baixo, ou por cima. Fomos por cima.
Subimos uma escada de ferro enferrujada em forma de caracol e nos deparamos com a seguinte cena: pessoas guardadas, muitas, em celas que mais se assemelham a jaulas nas quais o teto são grades.
Chegamos mais uma vez em meio a um silêncio perturbador.
A diretora pede que a gente suba nos contêiners em pequenos grupos, porque a estrutura está frágil em decorrência do fogo. Conforme andamos por cima da passarela de ferro, as pessoas enjauladas nos olham acuadas em redes, no chão ou acocadas em algum canto. Estamos no anexo, local onde os detentos entraram para retirar alguns presos rivais durante o motim.
Dependendo do vento ou da localização no espaço ainda era possível sentir a fuligem. A sensação de estar ali é horrível. Se a ideia daquela engenharia foi a de subjugar o outro, ela foi cumprida com êxito, porque o sentimento era o de estar pisando em cima das pessoas. O modelo não é exclusividade do Centro de Recuperação Regional de Altamira, ele se repete em outras unidades do Pará e em outros estados do Brasil.
As grades de ferro servem de suporte para atar redes e as instalações elétricas são gambiarras com fios desencapados, que levam, de forma improvisada, luz até as celas. Questiono a diretora se aquilo não é perigoso e ela responde dizendo que não é eletricista.
Conforme as perguntas dos representantes das entidades vão surgindo, os detentos começam a falar: “essa é a única roupa que eu tenho”, responde um. Outro, questionado sobre o banheiro diz que “está ali no cantinho”, mas logo baixa a cabeça e não fala mais nada.
Tem gente de Porto de Moz, de Altamira, de Oriximiná. Um senhor de 62 anos, da Paraíba, deitado em uma rede, tosse. Ele mesmo não fala absolutamente nada, mas um companheiro de cela conta que ele está doente há semanas e sem atendimento. Outro pede amoxicilina.
A diretora explica que os remédios só estão entrando no presídio mediante apresentação de receita e nota fiscal e que isso segue a portaria 513 da Susipe, que segue uma normativa nacional. Sobre a entrega dos remédios aos detentos, a diretora diz que estão sendo entregues de forma racionada, até mesmo os remédios controlados.
Os presos relatam o contrário. Há, inclusive, relatos de pessoas com epilepsia sem medicação. Um preso levanta a camisa e mostra marcas de queimadura do motim.
O tempo vai passando e aqueles homens vão ficando à vontade com a nossa presença e começam, modestamente, a falar. Depois de contar suas histórias de forma breve, entregam papéis com os seus nomes para que os advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) analisem os seus casos.
Em uma das celas-contêiner com 18 pessoas, 3 eram provisórios, ou seja, ainda aguardam julgamento. No Pará, atualmente, segundo dados da Conselho Nacional de Justiça, há 5.676 presos provisórios de um total de 12.433 presos somando os que cumprem regime fechado e semiaberto.
Um promotor diz que será feito um mutirão para analisar o caso dos provisórios e um detento devolve: “Falaram o mesmo na rebelião de setembro e até agora nada”. Depois do silêncio constrangedor, ele diz que dessa vez vai ser diferente.
Com muita dificuldade um detento escreve algo em um papel e me entrega. A letra de quem mal foi alfabetizado continha o nome dele: “entrega para a defensora para mim?”, diz.
Ajoelho na estrutura enferrujada para apanhar o papel das mãos dele e ele sobe em uma lata de plástico de manteiga para me entregar. Guardo no bolso e permaneço de joelhos perguntando sobre as condições no local. Em seguida, mais um papel com nome me é entregue. “É só para passar o seu nome?”, pergunto. Eles dizem juntos: “Sim, pede para ela [a promotora] ajudar nós”.
Centro de Recuperação?
Irmã Petra, apesar de visitar muitos presídio confessa que não acredita que sistema prisional brasileiro possa recuperar alguém. “Prisão não é para recuperar. Prisão é um lugar de vingança, de punição”, diz ela.
No Pará, segundo dados da Superintendência do Sistema penitenciário do Estado do Pará (Susipe), um detento custa aos cofres públicos, uma média de R$ 1.260,70, o valor não é fixo e sofre variação a cada mês em decorrência de despesas administrativas e do contingente carcerário.
A média nacional é de R$ 2.400 segundo o CNJ e engloba gastos com sistema de segurança; contratação de agentes penitenciários e outros funcionários; serviços como alimentação e compra de vestuário, assistência médica e jurídica, entre outros.
Na vida real, porém, grande parte das famílias dos detentos precisa trazer o mínimo de fora, porque o presídio não oferta, por exemplo, comida suficiente ou mesmo itens de higiene. E recentemente até isso foi está escasso com a nova portaria. Alimentos, por exemplo, são restritos a dois quilos por semana.
Após ouvir alguns presos começamos a nos mobilizar para ir embora. Está muito claro que aquelas pessoas não têm o mínimo de dignidade e que o lugar é um catalizador para raiva e vinganças. Ficamos cerca de 15 minutos no lugar, mas pareceu mais de uma hora.
Edição: Rodrigo Chagas